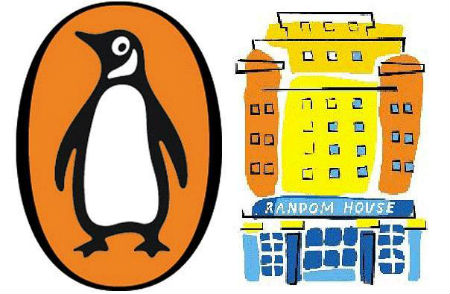O escritor americano filho de nigerianos Teju Cole chegou ontem à Casa Folha com uma camiseta onde se lia “Nem alegre nem triste: poeta” e iniciou sua fala com a leitura de “No Meio do Caminho”, de Drummond –leu os dois primeiros versos em português e depois passou para a tradução de Elizabeth Bishop para o inglês.
Falou de seu romance de estreia, “Cidade Aberta”, comentou sua paixão pela fotografia, deu suas impressões a respeito do Brasil, onde está pela segunda vez –dois anos atrás, passou algum tempo em Cabo Frio e no Rio. E citou dois momentos em que sofreu preconceito no Brasil, como relata o repórter Marco Aurélio Canônico na Folha de hoje:
O primeiro foi ao chegar no aeroporto internacional de São Paulo, “acompanhado de dois outros autores americanos convidados, brancos”, que ele não quis identificar.
“Alguém do aeroporto me apontou um caminho; meus amigos me seguiram, mas ele disse que só eu precisava ir. Minhas malas passaram por uma vistoria extra. Bem-vindo ao Brasil”, contou.
“É claro que essa seleção não foi feita porque alguém olhou meu passaporte.”
O outro incidente aconteceu durante a Flip, quando o escritor entrou em um local no centro histórico de Paraty “onde as pessoas estavam indo e vindo livremente”.
“Fui perseguido pelo segurança, até que apareceu alguém dizendo ‘ele é um dos nossos palestrantes’. Essa é a realidade presente aqui.”
Não falou isso em tom de indignação. Disse que já se acostumou, que passou por situações do gênero em outros países, e elogiou a afetuosidade do povo brasileiro. O que, é claro, não ameniza a vergonha de saber que isso acontece sem que a gente se dê conta.
Teju conquistou com alguma facilidade o público que lotava a Casa Folha, entendendo algumas perguntas em português e dando longas respostas a todas. Ele poderia ter sido uma espécie de valter hugo mãe da Flip 2012 se tivesse lido Drummond ou feito outras graças do gênero na Tenda dos Autores, onde falou na tarde anterior. Não fez nada disso, mas foi uma boa mesa.
***

Teju e Paloma na Tenda dos Autores, em foto de Adriano Vizoni/Folhapress
A certa altura do debate entre ele e a argentina radicada no Brasil Paloma Vidal, o mediador, João Paulo Cuenca, perguntou se escrever era um prazer para eles. Paloma respondeu: “É uma felicidade”. E Teju: “Consigo escrever e sinto felicidade. Daí leio e sinto tristeza: quem foi o idiota que escreveu isso?”.
É curioso saber que a tristeza tenha existido na escrita de “Cidade Aberta”, o romance de estreia que o alçou à fama instantânea nos EUA (até onde “fama” e “literária” não são antônimos). Entre outras coisas, o livro recebeu elogiosa crítica de cinco páginas na “New Yorker”, assinada por James Wood (de “Como Funciona a Ficção”). Aqui foi um daqueles casos de livros atropelados pela Flip. Com tantos títulos saindo ao mesmo tempo, Teju ganhou menos espaço.
Como escrevi no papel, à primeira vista “Cidade Aberta” pode dar impressão de um elogio a Nova York, metrópole onde se passa a maior parte da história. Mas a primeira vez que a expressão aparece na narrativa é em referência a Bruxelas, como lembrança de que é como se chamam, em tempos de guerra, cidades que se rendem para preservar a infraestrutura –essa é só uma contradição que ajuda a entender outras do livro.
Teju nasceu no Estado americano de Michigan, foi criado na Nigéria natal de seus pais e se estabeleceu nos EUA aos 17. O protagonista do romance, Julius, meio nigeriano, meio alemão, também chegou em Nova York aos 17 e hoje (ou melhor, em 2006, quando começa a história) é um jovem psiquiatra que passa as tardes andando sem rumo e prestando atenção nos tipos e cenários que para os outros não passam de pano de fundo.
Ele explica melhor tudo isso na entrevista a seguir, feita na manhã de quinta em Paraty.
***

Teju em foto de Vizoni, também: ele gosta de fotografar, mas detesta ser fotografado
A primeira vez que o termo “Cidade Aberta” aparece no livro é em referência a Bruxelas, e não a Nova York. Como fez essa conexão entre o termo para as duas cidades?
Queria usar “cidade aberta” em dois sentidos. O primeiro é mais óbvio, “aberta” tem conotação positiva, coração aberto, mente aberta, então é isso o que as pessoas pensam, um lugar no qual você pode ir e vir livremente. Mas há esse segundo termo, militar, pelo qual cidade aberta é aquela que, em tempos de guerra, se rende num acordo, levando a uma situação em que tudo parece normal, sem destruição, mas com a convivência dos invasores. Achei o conceito interessante, e é um nome estranho para o conceito.
Escolhi Bruxelas, que passou por isso, porque um interesse meu em literatura são os duplos. Ter uma coisa em comparação com outra, um eco maneira indireto. Julius, o narrador, tem vários duplos no livro, mas o principal é Farouq, esse jovem marroquino que, como ele, é africano, jovem, intelectual, um pouco à esquerda, embora sejam diferentes.
Nova York é uma espécie de capital de um novo império, e é uma capital insegura, com problemas internos. Os problemas estão lá, mas você não consegue ver. Não é como uma cidade invadida, quando há soldados estrangeiros usando seus recursos, seu oxigênio, mas Nova York tem de lidar com o terrorismo, com o crime, todas essas coisas.
Ao mesmo tempo, é a capital financeira do mundo, é uma capital cultural. E Bruxelas, com toda sua história pós-colonial e seus conflitos internos, é oficialmente a capital da Europa. Achei melhor explorá-la do que a Londres, porque Bruxelas é mais inusitada. Estive lá um mês atrás, e eles estavam felizes de eu ter usado a cidade, mas também surpresos.
Quando Julius está em Nova York, ele tem esse sentimento de não pertencer àquele lugar, mas, quando vai a Bruxelas, parece se sentir mais americano.
É claro que o livro é ficção, mas esse é um fenômeno que acontece comigo. Em outros sentidos também. Quando estou com um grupo de amigos radical, muito à esquerda, eu me vejo mais no meio. Quando estou falando com gente que se considera moderada, tenho vontade de dizer: ‘Ei, venha para a esquerda’.
Estou sempre defendendo o lado que está sendo atacado. Se estiver conversando com algum ateu radical, posso defender a religião. Se encontrar um religioso, vou dizer: ‘Esqueça, não quero saber de nada disso’. É mais ou menos isso o que acontece com Julius. Quando ele vê outros criticando os Estados Unidos, ele se vê defendendo o jeito americano contra quem não consegue entendê-lo.
O tema da migração percorre todo o livro, Julius é um migrante e conversa com outros a todo momento. Como isso ajuda a definir Nova York?
Nem sempre morei em Nova York, mas hoje [quinta] se completam 20 anos que cheguei lá. Só morei em Nova York em 12 desses 20 anos, mas percebi que aquela que aparece no cinema ou na TV não se parece com a que conheço. A de “Friends”, “Seinfeld”, que Nova York é essa? Não reconheço. Quando olho pra Nova York, as pessoas são diferentes. Não é essa em que você só vê seis amigos brancos vivendo em apartamentos legais.
Nova York é uma cidade de imigrantes. Isso é óbvio. Quando você entra no metrô, é como estar na ONU. E por que isso não aparece… Não escrevi o livro com a missão de mostrar como a cidade é. Foi apenas natural. Isso é apenas o tipo de coisa que a gente vê todo dia.
Julius é meio alemão, meio nigeriano, seu professor é japonês, seus pacientes são turcos e afro-americanos. Seus vizinhos são brancos, irlandeses ou algo do gênero. Isso é normal. Seria artificial se eu escrevesse essa história com todos brancos, mas vi livros sobre Nova York que fazem isso.
Acho especialmente interessante que o atual presidente dos EUA seja algo que eu chamaria desse novo tipo de americano. É americano, mas tem um pé em outro mundo, pais de fora, é ‘acusado’ de ser muçulmano, viveu na Indonésia. Cada vez mais vamos ver histórias assim. Não uma narrativa sobre imigrantes, mas a essência de ser americano e do mundo.
Você já descreveu Julius como um homem pós-11 de Setembro. O que seria uma pessoa pós-11 de Setembro?
Uma coisa importante é o questionamento quanto ao mito da inocência americana. Antes do 11 de Setembro, éramos esse país inocente e bacana, todas as guerras eram do outro lado do oceano, não precisávamos lidar. Depois disso, a guerra veio para casa, e para quem é esclarecido se tornou a ocasião para perguntar qual é nosso papel na miséria que as pessoas lá fora vivem.
Não é a primeira vez que isso acontece, mas, para a minha geração, o 11 de Setembro abriu os olhos para o mundo. Já houve a Coreia, o Vietnã, e para nós foi o Iraque, que lembra mais uma vez que a história do mundo não é americana. Isso foi o que 11 de Setembro fez.
Chamei de pós-11 de Setembro porque não queria que fosse uma análise do ataque às torres ou da guerra, queria que fosse uma história sobre como digerimos as coisas quando algo maior acontece. E parte da resposta é que digerimos isoladamente, não em público. E que a perda e essa forma de digerir se conectam uma à outra.
A primeira coisa que se precisa entender é que a história não começou ontem. Mas as pessoas que querem usar o 11 de Setembro politicamente, querem insistir que começou com o ataque. Falam como se fosse a pior coisa que aconteceu com Nova York. Mas, se você perguntar a um americano nativo, a pior coisa não foi o 11 de Setembro em si. Para os negros de Nova York o 11 de Setembro é terrível também, mas um quarto da população é descendente de escravos africanos. Foi uma longa história de escravidão, isso é um desastre. E parece que foi esquecido.
Você falou há pouco de Obama. Como avalia o governo dele?
Gosto dele. Acho que é notável e incomum ter nos EUA um presidente como ele. E está no lugar certo. No entanto, também é presidente, e isso vem com uma característica específica de brutalidade. Há uma tensão entre esse homem interessante, de quem gosto, e esse comandante-em-chefe de guerras ilegais. Mais notavelmente essa guerra ilegal no Paquistão, com os EUA assassinando pessoas. Mas acho que internamente ele teve muita oposição aos republicanos e que fez um trabalho incrível considerando o tipo de oposição que teve.
Um ou outro personagem no livro diz para Julius ‘você é afro-americano como eu’, ressaltando as dificuldades que isso pressupõe. Algo nesse sentido mudou após Obama?
Sim, há grande diferença. Se você é um pequeno garoto ou garota negro nos EUA, todas as mensagens que a sociedade passa é que você não é bom. E, em certo sentido, alguém que parece com você é o chefe. É bom para afro-americanos, um tipo de conforto. Mas também para os brancos, mesmo os que não são racistas, porque deu uma experiência que a maioria nunca teve que é ter uma pessoa negra numa posição de autoridade.
Sou professor, e frequentemente tenho a sensação de que é a primeira vez na vida que aqueles garotos têm um professor que não é branco. Isso imagino que seja estranho para eles. Mesmo interagindo com vários negros, mas pegando o metrô, o motorista do ônibus, o homem da bilheteria. Obama ajudou a criar isso, e espero que os EUA também tenham, como o Brasil, uma presidente mulher, só para a gente passar por isso e seguir em frente.
Você está escrevendo uma não ficção sobre Lagos. Como é passar da maior cidade dos EUA para a maior da África, e da ficção para a não ficção?
Quando você está escrevendo, fazendo um trabalho criativo, quando é um iniciante como eu, uma coisa curiosa é que você descobre seus interesses. Você não tinha como saber isso antes de começar, não tinha como saber se escreveria sobre amor ou horror ou espiões.
Mas, quando escreve, você desenvolve seus interesses. Descobri que meu maior interesse é escrever sobre cidades. Quando tiro fotos, são de cidades. Nesse sentido, Lagos faz sentido. “Cidade Aberta” é cheia de descrições líricas da vida na cidade a partir de um olhar para as pessoas e para as coisas, nesse sentido não há muita diferença.
As cidades são muito parecidas uma coisa a outra. Alguns milhões de pessoas vivendo juntas num espaço pequeno. E pessoas que ao mesmo tempo são cooperativas e hostis, isso é uma tensão interessante. No entanto, Lagos é diferente para mim porque foi onde cresci. Está conectado a infância, a familiaridade. E é uma cidade complicada, com problemas que em Nova York já foram resolvidos, como infraestrutura, eletricidade. As coisas pequenas que tornam a cidade mais desafiadora para quem vive lá e interessante para mim.
A ficção e a não ficção não são tão diferentes, já que a minha ficção trata de escrever de maneira que pareça real, tanto que muitos acham que é biográfico, com observações que vêm da vida ou parecem vir da vida. É claro, na não ficção tenho que tomar o cuidado de garantir que tudo o que escrevo venha da observação, da pesquisa, mas, como escritor, minha voz é minha voz, então o que escrevo provavelmente vai soar como meu.